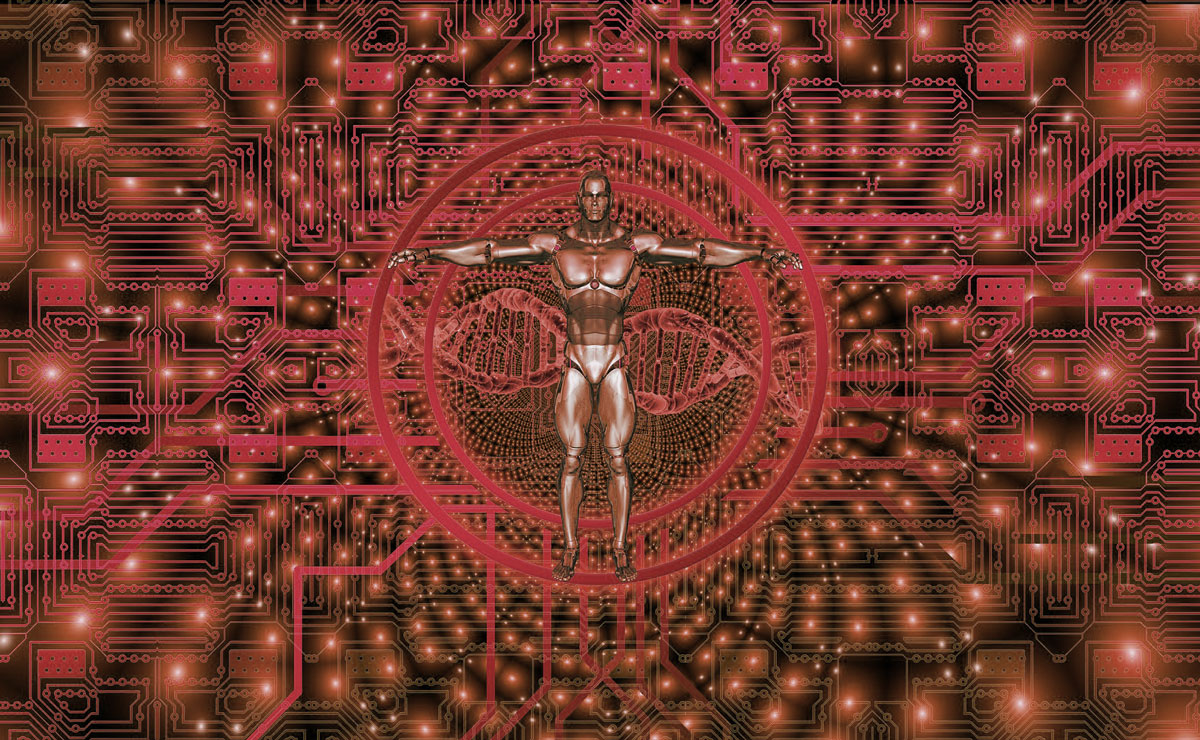Escrevo na pior fase, até agora, da crise pandémica mundial. Portugal é agora um trágico campeão. A contar, não a partir de cima, do sítio onde se vislumbra o céu, mas a partir do fundo, do temível lugar de baixo onde todas as culturas milenares situam o inferno. Nos próximos 40 dias poderemos perder tanta gente para a Covid-19, como o número de soldados que morreram em 13 anos de guerras ultramarinas. Afinal, este “vírus bonzinho” continua a semear morte e miséria, e a deixar muitos líderes políticos, que julgavam ter o assunto resolvido com as vacinas e a propaganda, a fazer pagar aos seus povos o preço da tóxica combinação de ignorância com arrogância.
O que hoje acontece com a pandemia, e o que irá suceder, salvo ocorra um milagre, daqui a dez ou quinze anos com a entrada em cena de disruptivas reacções em cascata, provocadas pela aceleração da crise ambiental e climática, é a confirmação da completa erosão do senso-comum, essa faculdade que nos liga ao mundo. Essa erosão resulta de um longo e complexo processo histórico, com raiz na Europa de Quatrocentos, que os académicos costumam designar como Modernidade. Estamos a viver o crepúsculo universal do programa renascentista de Pico della Mirandola (1463-1494): compreender o homem como uma criatura destinada por Deus à liberdade de escolher o seu destino. Ao fim de algum tempo, a parceria com Deus, deu origem a um afastamento completo. Como Laplace disse a Napoleão: na ciência Deus é uma hipótese desnecessária. O cristianismo tinha sido o amparo espiritual dos Europeus nos mil anos de escassez medieval. Mas, quando a ciência trocou o serviço da verdade pela busca fáustica do poderio tecnológico, o narcisismo humanista, exaltado na contemplação das suas possibilidades infinitas, deixou mergulhar Deus num longo eclipse.
A modernidade não só dispensou o Criador, como escravizou o mundo natural da Criação à voragem de uma economia que deixa desertos no seu rasto. A partir do século XIX, o primado tecnológico transformou-se numa infecção cultural, que contaminou todas as esferas da existência. A natureza deveria submeter-se, obedientemente, a todos os desvarios do imperativo tecnológico que perdeu a mínima consciência dos limites. Alguns exemplos. Em 1934, Sydney Chapman (1888-1970) sonhava com limpar a atmosfera da camada de ozono para aumentar a sensibilidade dos aparelhos astronómicos à radiação ultravioleta mais remota! Não lhe ocorreu perguntar se isso acarretaria danos colaterais. Seria Thomas Migdley (1889-1944), responsável também pela calamidade para a saúde pública resultante da invenção da gasolina aditivada com chumbo, a produzir os clorofluorcarbonos (CFC), que provocaram a depleção da camada de ozono. Todavia, foi por puro acaso que Migdley usou para o seu novo produto, o cloro (CI) em vez do brómio (Br), que teria um efeito destruidor sobre a camada de ozono estratosférico cem vez maior! De acordo com cálculos do Nobel da Química, Paul Crutzen, se tal tivesse sucedido, em 1976 a humanidade teria sido aniquilada sem sequer perceber porquê…
A reclusão forçada pela pandemia deu-nos oportunidade de escutar os sons de uma natureza que submetemos e esquecemos, como se dela não fizéssemos parte. Mas que ninguém espere uma nova sabedoria nascida da tragédia. Quando esta pandemia se dissipar, o cruzador da modernidade zarpará de novo a todo o vapor, cumprindo o lema extremo que Pessoa foi buscar ao general romano Pompeu: “Navegar é preciso; viver não é preciso”.
Viriato Soromenho-Marques
Publicado no Diário de Notícias, edição de 23 de Janeiro de 2021, p. 10.